
Entrevista: 'Os líderes precisam entender que o futuro se constrói com os indígenas', diz relator da ONU durante a COP30
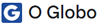
Em dezembro, o advogado congolês Albert K. Barume completará um ano como relator especial das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Indígenas. É o primeiro africano no cargo.
Nos últimos dias, ele esteve em Belém, onde essas comunidades têm sido protagonistas da COP30. Lá, visitou o Caucus Indígena, a instância que unifica as posições sobre mudança climática das sete regiões socioculturais do mundo. Falou sobre seu primeiro informe como relator e contou que, em pleno século XXI, algumas famílias poderosas da África continuam dando pigmeus de presente a seus filhos, como se fossem animais de estimação e não seres humanos.
Em entrevista ao GLOBO, Barume comenta esses padrões coloniais ainda persistentes e denuncia que o menosprezo a essas culturas está, em muitos casos, relacionado à intenção de expropriar suas terras. Ele também alerta sobre os riscos de misturar os conceitos de comunidades locais e povos indígenas, afirmando que estes últimos são nações, com direitos específicos, como a autodeterminação, e que o sistema internacional precisa se adaptar a essa realidade.
Quão avançado está no mundo o reconhecimento estatal efetivo dos povos indígenas?
Não estou certo de ter um panorama totalmente correto, mas direi o seguinte: os direitos dos povos indígenas dependem do nível de democracia e do Estado de Direito. Quando os povos indígenas vivem em um contexto nacional de governança frágil, pouca prestação de contas e um Estado de Direito disfuncional, é provável que enfrentem desafios muito maiores. Quando os direitos humanos não são prioridade e não fazem parte da cultura política, o nível de reconhecimento e proteção dos povos indígenas é, obviamente, menor. A questão indígena é, fundamentalmente, um tema de direitos humanos. Foi criado um regime jurídico justamente para corrigir a violação histórica de seus direitos. Precisamos começar reconhecendo os povos indígenas como titulares de direitos e como vítimas de uma violação específica: a desumanização de uma pessoa — ou de toda uma comunidade e seu modo de vida — com o objetivo de despojá-la de sua terra. Muitas comunidades foram consideradas selvagens, incivilizadas, porque buscava-se uma justificativa para tirar-lhes a terra. Essa violação específica deu origem ao regime internacional de direitos humanos dos povos indígenas. E ela continua ocorrendo em países pós-coloniais, onde algumas comunidades, culturas e modos de vida são menosprezados.
Pode dar um exemplo?
Antes de ser relator especial, tive o privilégio de trabalhar para a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, um mecanismo regional equivalente ao Sistema Interamericano. Durante meu período lá, foi formulado o conceito de povos indígenas para todo o continente. A Comissão concluiu que esse conceito, conforme entendido no direito internacional, aplica-se a pouquíssimas comunidades na África — principalmente aos caçadores-coletores e pastores nômades, que se encaixam no perfil de comunidades que sofreram a violação específica de que falei anteriormente, e que continuam sofrendo. Ainda hoje, ouvem-se representantes africanos dizendo: “Não podemos permitir que as pessoas continuem sendo caçadoras-coletoras. Isso é algo selvagem, incivilizado.” Também se escuta: “Não se pode deixar as pessoas andando por aí com gado, como selvagens.” Isso é profundamente ofensivo. Denigre culturas, modos de vida e meios de subsistência que essas pessoas não escolheram.
O senhor pretende se pronunciar sobre a militarização da COP devido aos protestos da semana passada?
Eu não usaria a palavra “militarização”. De modo algum. Minha intenção não é julgar, porque eu não estava aqui quando a manifestação ocorreu. Mas isso não é desculpa. O que quero dizer é que o direito ao protesto está garantido. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto: muitos povos indígenas que não têm acesso à Zona Azul vieram para cá para serem ouvidos, para serem vistos, para que sejam levados em conta — porque nós precisamos deles: sem eles não há saída para a crise climática. Numerosos estudos mostram que há mais biodiversidade em terras indígenas. E prevê-se que muitos dos projetos de transição energética se desenvolvam nessas terras. Fala-se que entre 40% e 50% dos minerais da transição estão em terras indígenas ou próximas a elas. Portanto, esses povos são essenciais. Além disso, têm conhecimentos tradicionais reconhecidos como fundamentais no enfrentamento da mudança climática. É do interesse de todos ouvir os povos indígenas — tanto os que estão na Zona Azul quanto os que estão do lado de fora e usam o protesto ou a liberdade de expressão para apresentar sua posição.
E o mundo está ouvindo?
Não sei se o mundo está ouvindo, mas deveria. E não digo isso apenas por ser o relator especial para os Direitos dos Povos Indígenas, mas pelas razões que já expus: a forma como eles têm usado os recursos naturais é muito mais sustentável. Acredito que só falta que os tomadores de decisão entendam que o futuro precisa ser construído com eles.
À luz do direito internacional, os povos indígenas deveriam poder votar nas COPs?
Os povos indígenas são nações. E hoje é inegável que se tornaram sujeitos do direito internacional. O artigo 3 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas fala da autodeterminação. Acredito que os processos internacionais, incluindo a Convenção-Quadro sobre Mudança Climática e as COPs, precisam se ajustar ao status dos povos indígenas no direito internacional. Houve avanços nesse sentido, mas eles não são suficientes. De fato, em Nova York e Genebra há um debate e uma negociação em curso sobre como melhorar sua representação dentro da ONU. Porque os povos indígenas não são ONGs, nem Estados, nem indivíduos. São sujeitos de direitos internacionais. O debate já não é sobre se devem estar melhor representados, e sim sobre quando estarão representados como deveriam.
O senhor tem alguma ideia de como mudar esse modelo?
Essa é uma negociação entre Estados e povos indígenas. Eu não sou nem uma coisa, nem outra. Não posso prever o que os Estados farão, pois são eles que constroem o direito internacional. E tampouco falo em nome dos povos indígenas. Sou relator especial sobre seus direitos; minha função é orientar sobre como aplicá-los melhor.
No seu primeiro informe como relator, o senhor alertou para os riscos de misturar os conceitos de povos indígenas e comunidades locais. Quais são esses riscos?
Se as duas categorias forem completamente confundidas, o primeiro risco é a degradação dos direitos dos povos indígenas, porque “comunidade local” continua sendo um conceito de direito interno, ao contrário de povos indígenas, que constituem um conceito de direitos humanos no âmbito do direito internacional. No exercício de sua soberania, os Estados podem definir quem faz parte de uma comunidade local. E alguns Estados o fizeram, como a República Democrática do Congo, de onde venho. Mas o número de países que fizeram ainda é muito baixo. A legislação interna pode conceder alguns direitos territoriais às comunidades locais, mas esses direitos podem ser suspensos, restringidos ou modificados também conforme a legislação interna. Se aceitássemos que os direitos das comunidades locais e dos povos indígenas são a mesma coisa, isso poderia implicar que os direitos indígenas também dependeriam da legislação nacional — o que não é verdade. Os direitos indígenas estão baseados no direito internacional. Muitos Estados estão impulsionando com força a categoria de comunidades locais com a intenção de rebaixar os direitos indígenas sobre terras e recursos ao mesmo nível dos direitos das comunidades locais. Assim, podem controlar esses direitos, definir seu alcance, expropriar, limitar, fazer o que quiserem. Um segundo risco é que, em certas regiões, como África e Ásia, a terra foi tomada dos povos indígenas por comunidades locais. Como escrevi em meu informe: se você coloca o ator dominante e sua vítima sob a mesma categoria legal de proteção, compromete o destino da vítima.
