
Entre críticas e elogios, reações a ataques na Venezuela expõem disputas políticas e prioridades locais
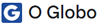
Imediatamente após o ataque sem precedentes dos EUA à Venezuela, que levou à captura do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores, governos de todo o mundo reagiram em uma mescla de críticas à ação militar, apoio irrestrito à prisão do chavista e uma postura cautelosa, até pela incerteza dos dias que estão por vir.
Ataques na Venezuela: Infográficos mostram mobilização militar dos EUA no Caribe e rede de bases no exterior
Opinião do GLOBO: Tirania de Maduro não justifica ataque de Trump
Na América Latina, as primeiras reações vieram da Colômbia e de Cuba, dois países ameaçados pelo presidente americano, Donald Trump, em entrevista coletiva na tarde de sábado. Na rede social X, Gustavo Petro, líder colombiano que está sob sanções americanas, não citou os EUA, mas declarou que seu governo “rechaça qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil”. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, exigiu ação urgente da comunidade internacional contra um “criminoso ataque” à Venezuela.
Outras lideranças de esquerda da região também condenaram a ação. No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse se tratar de uma “afronta gravíssima” à Venezuela, e uma “violação do direito internacional”. Tom similar ao de Gabriel Boric, presidente chileno que está perto do fim do mandato, e de Claudia Sheinbaum, presidente do México, que citou o trecho da Carta da ONU sobre agressões a outros Estados.
Delta Force: O que é a ‘tropa de elite’ do exército americano, responsável por capturar Maduro na Venezuela
No campo da direita, as palavras foram de celebração. Javier Milei, aliado de Trump na Argentina, usou seu jargão, “viva a liberdade”, acompanhado por um palavrão. Daniel Noboa, líder do Equador, afirmou que “chegou a hora dos narcochavistas”. Nayib Bukele, que abriga em El Salvador uma prisão usada por Trump para enviar imigrantes considerados indesejados pela Casa Branca, fez publicações irônicas na rede X.
A Venezuela é, há anos, um tópico quente, mas secundário, na América Latina, seja por questões ideológicas ou migratórias, como se viu recentemente no Chile. Em um ano com votações em cinco países — Brasil, Colômbia, Costa Rica, Haiti e Peru — a política externa pode ganhar tons inéditos em processos eleitorais.
As reações de políticos de direita sugerem que usarão o apoio a Trump (mesmo que não seja recíproco) como atestado de que estão “ao lado” da democracia e do combate ao crime, argumentos repetidos em Washington mesmo antes do retorno do republicano. Já o campo progressista parece apostar na defesa da soberania nacional e, no caso de Sheinbaum e de Lula, na manutenção de canais de diálogo com Trump para resolver questões que vão além da Venezuela, como o tarifaço. A possibilidade de uma intervenção de longo prazo, como prometida pela Casa Branca, também pesa no cálculo político, embora não se tenha muita ideia do que os EUA têm em mente.
EUA atacam Venezuela, capturam Maduro e retiram líder chavista do país
Na Europa, uma palavra resume as reações: cautela. Ao mesmo tempo em que ninguém saiu em defesa do regime de Nicolás Maduro, cuja eleição no ano passado não foi reconhecida pelo bloco, líderes de diferentes campos do espectro político expressaram ressalvas sobre como foi retirado do poder.
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE), defenderam uma transição pacífica de poder e pediram respeito à lei internacional e à Carta das Nações Unidas. Giorgia Meloni, premier da Itália, adotou um tom dúbio ao dizer que ações externas não são a melhor forma de acabar com regimes autoritários, mas que considera “legítima a intervenção defensiva contra ataques híbridos à sua segurança”. Friedrich Merz, chanceler alemão, foi ainda mais cauteloso, dizendo que “avaliação jurídica da intervenção dos EUA é complexa e exige uma análise cuidadosa”. Pedro Sánchez, premier espanhol, reiterou que não reconhecia Maduro, mas tampouco reconhecerá “uma intervenção que viola o direito internacional e empurra a região para um horizonte de incerteza e beligerância”.
Ataque dos EUA à Venezuela: Fonte da CIA dentro do governo venezuelano ajudou a rastrear Maduro
Entre as reações, as mais peculiares vieram da França. Emmanuel Macron, presidente, disse que o povo venezuelano deveria comemorar por ter se livrado da “ditadura de Maduro”, sem citar a invasão. Pouco antes, seu chanceler, Jean-Noël Barrot, questionou a legitimidade da operação militar, como também o fizeram Jordan Bardella, presidente do Reagrupamento Nacional, de extrema direita, e Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, de esquerda.
Ao longo da crise venezuelana, a Europa buscou um papel de protagonismo no diálogo entre os chavistas e a oposição, sem muito sucesso. Agora, também tenta evitar novos problemas com Donald Trump, um líder americano que jamais prezou pela relação transatlântica. Desde seu retorno à Casa Branca, os europeus o tratam com luvas de pelica e concessões, sejam elas econômicas ou de Defesa, como visto recentemente na Otan, a principal aliança militar do Ocidente. Outro ponto sensível é a Ucrânia: o republicano não esconde o desdém por Kiev, e pressiona Bruxelas para que gaste mais com a guerra. Por isso, ficar em cima do muro sobre Maduro parece uma opção mais segura ao continente.
Soltando a mão
Os principais aliados da Venezuela, Rússia e China, adotaram um tom crítico. A Chancelaria russa falou em “ato de agressão” e citou o direito à autodeterminação dos venezuelanos. Pequim, também por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, disse que o país “se opõe firmemente a esse comportamento hegemônico dos EUA, que viola gravemente o direito internacional”.
Mas como dizem analistas há alguns meses, os dois países, que apoiam (ou apoiavam) militarmente e economicamente o regime chavista, devem ficar apenas nas palavras. Diante do aumento da presença militar americana no Caribe, Maduro chegou a pedir ajuda a seus aliados para fortalecer suas capacidades de defesa e controle dos céus, mas não teve a resposta esperada — em 2018, quando os EUA (também com Trump) não aceitaram a vitória de Maduro na eleição presidencial daquele ano, Moscou enviou centenas de membros da milícia Grupo Wagner e dois aviões com capacidade nuclear à Venezuela.
Antes do ataque: Entenda por que chavismo estabeleceu animosidade entre EUA e Venezuela e levou à captura de Maduro
Como os europeus, os dois parecem querer evitar novos problemas.
— Atualmente, não há motivos para defender a Venezuela, nem para a Rússia, nem para a China, considerando seus outros problemas, como a guerra da Rússia na Ucrânia e a China tentando conviver com o presidente Trump no cenário internacional — afirmou, em entrevista à BBC em dezembro, Fernando Reyes Matta, ex-embaixador chileno em Pequim. — Os endossos que ele (Maduro) teve no passado não estão mais disponíveis em termos reais, exceto por algumas declarações retóricas.
