
Cubiu, babaçu e mapará: pequenos empreendedores da Amazônia trabalham para espalhar novos sabores da floresta pelo país
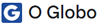
Com um pé ficado na ciência e outro no empreendedorismo, pequenos produtores rurais, comunidades extrativistas e empresários se empenham em espalhar para além da Amazônia os sabores da floresta. Passada a COP30, o desafio é transformar o conceito de bioeconomia em negócios concretos que de fato se sustentem, dizem especialistas.
Veja projetos inspiradores: A solução da crise climática passa pelas cidades
DNA ambiental: Nova geração de ativistas do clima quer dar voz a quem não tem
Potencial existe. Estudo da Câmara Internacional de Comércio (ICC), apresentado na COP30, mostrou que o setor alimentício lidera o potencial econômico da bioeconomia baseada em conhecimento, impulsionado pela indústria alimentícia consolidada do Brasil e sua rica biodiversidade de espécies endêmicas com valor nutricional. Com o mercado global projetado em US$ 2 trilhões até 2032, o Brasil pode capturar 2% desse total, gerando até US$ 50 bilhões anuais. Mas só o fato de ser amazônico não sustenta um negócio de pé. Tampouco o extrativismo sem valor agregado.
— O primeiro desafio é conectar as empresas de fora da Amazônia com os produtos da floresta. Eles precisam fazer sentido para a gastronomia, seja por oferecerem novos sabores ou texturas, seja por substituírem com vantagem ingredientes convencionais. Essa vantagem pode ser custo, sustentabilidade, valor nutricional. Há uma gama imensa de variáveis, mas todas precisam ser testadas e certificadas — afirma Maria Paula Fonseca, consultora em Sistemas Agroalimentares do Instituto Arapyaú e uma especialista em construir pontes de produtores com empresas do setor de alimentação.
Fonseca é uma das pesquisadoras à frente do guia “Amazônia de boca a boca — Ingredientes e gentes da floresta”, do Instituto Arapyaú, que mapeia cadeias produtivas de alguns dos principais produtos alimentícios amazônicos e também foi lançado na COP30.
Açaí virou sinônimo de Amazônia. O Brasil, tendo à frente o Pará, é o maior produtor do mundo, com aumento de 70% na produção nos últimos cinco anos. Mas os ingredientes da floresta estão longe de se resumir a ele. Exemplo é o babaçu, outra palmeira, cujo amido pode substituir o potencialmente cancerígeno e sintético corante caramelo 4, usado em refrigerantes e molhos.
Já a farinha feita da pupunha pode substituir a de trigo, e acena com a vantagem de um maior valor nutricional. A semente do puxuri rende duas vezes mais que a noz-moscada no preparo de pratos. E o cubiu, um fruto, não faz feio no lugar da polpa de tomate.
O peixe mapará se parece com uma sardinha, mas seu gosto o torna uma opção à enguia em restaurante japonês. O cumaru, uma árvore de grande porte, tem conquistado destaque. Suas sementes são um substituto mais barato da cara baunilha. Na esteira dele, vem outras baunilhas de orquídeas amazônicas que estão em testes, diz Fonseca.
No cardápio de novos ingredientes da floresta está a carne de caju para veganos que alguns asseguram se passar tranquilamente por costela. E a torta de castanha-do-Brasil (o nome dado ao que sobra após a extração do óleo) pode ser usada para a produção shakes e outros suplementos. Ela tem mais aminoácidos essenciais (aqueles que o corpo humano não consegue produzir) que estimulam a recuperação muscular.
— A Amazônia é um antídoto contra a monotonia da comida. Mas são necessárias políticas públicas e desenvolvimento de modelos de negócio que façam os ingredientes amazônicos compensarem. O puxiri rende o dobro que a noz-moscada, mas devido à falta de logística ainda custa mais caro do que ela, importada da Indonésia — ressalta Fonseca.
Entre os muitos alimentos da floresta se destaca a mandioca, cuja cadeia tem amadurecido nos últimos anos e ganhado tecnologia e sofisticação. Agora ela tem proteoma (estudo genético das proteínas), busca por certificação de produtores que seguem práticas sustentáveis, estudos para inserção em grandes redes de alimentação e entrada no cardápio de chefes.
Mesmo nativa do Brasil e particularmente importante na Amazônia, onde primeiro foi domesticada, ela nunca teve o prestígio e a escala dos estrangeiros arroz, trigo e milho. Pouco a pouco, porém, iniciativas começam a mostrar o literal valor das centenas de variedades de mandiocas amazônicas.
O trabalho começa pela raiz. Não se sabe ao certo sequer quantas são as variedades amazônicas, estimadas em milhares. No Brasil, há aproximadamente 4 mil variedades catalogadas. Elas têm diferenças em relação à cor (amarela ou branca), consistência, concentração de amido, sabor, textura, tempo de plantio à colheita, dentre outras características.
Existem mandiocas mansas, que para comer basta cozinhar, e as bravas. Estas apresentam alta concentração de ácido cianídrico e são tóxicas para consumo direto. O ácido pode ser removido por processos tradicionais e industriais de cozimento, fermentação e secagem. E delas se fazem tucupi, farinha, polvilho e fécula.
Tanta diversidade impressiona e dá resiliência, mas é um obstáculo para a padronização e à escala, essenciais para a viabilidade de um negócio. É aí que entram as pesquisas de genômica e proteômica, como as do Instituto Tecnológico Vale (ITV).
— Se sabe pouco sobre a genética da mandioca, nem mesmo quantas são as espécies menos ainda quais as variedades. Começamos a estudar o tucupi. Queremos identificar que proteínas estão associadas a cada estágio da fermentação, à acidez, ao cheiro e à textura, por exemplo. Tudo isso é importante para a padronização, para ganhar escala — explica Alexandre Aleixo, à frente dos estudos de genômica e proteômica do ITV.
Uma empresa que apostou na qualificação da produção de mandioca é a paraense Manioca, que tem uma parceria com o ITV. Hoje ela exporta e seus produtos que incluem tucupi (amarelo e preto), shoyu de tucupi, tapioca e farinhas e podem ser encontrados nas principais redes de supermercado do país. O tucupi amarelo pode ser caldo de risotos e base de pratos japoneses. E tucupi preto substitui o teriyaki (como o shoyu, também à base de soja).
— Já temos resultados parciais que indicam propriedades probióticas no tucupi. Investimos em pesquisa. Mas ainda existe preconceito no Brasil em relação à mandioca. De forma geral, os alimentos amazônicos continuam presos a nichos. Esperamos ganhar escala — enfatiza Joanna Martins, fundadora e diretora da Manioca e integrante do Núcleo de Governança da rede Uma Concertação pela Amazônia. Ela frisa que há obstáculos que vão além de entrar no mercado.
— Se manter no mercado é complexo. Temos dificuldades, por exemplo, em competir com empresas do Sudeste na renovação das gôndolas dos supermercados, que precisa ser diária. Para nós, que estamos na Amazônia, isso não é trivial como para quem está no Rio de Janeiro ou São Paulo — diz Martins.
Marcelo Salazar, fundador da Mazo Maná e especialista em sistemas produtivos amazônicos, explica que os produtos da floresta terão que valer à pena não por preço, mas por qualidade e diferenciais de sabor, textura, valor nutricional, por exemplo.
Um dos gargalos de produção, por exemplo, é o beneficiamento. Martins acrescenta que base tecnológica existe, mas precisa ser ampliada para atender a necessidades específicas da Amazônia. O babaçu é um exemplo. Hoje o custo de produção do amido é maior que o do milho com o qual concorre. Uma das estratégias para estabelecer ingredientes da bioeconomia amazônica é a chamada gastrodiplomacia, o uso da gastronomia como meio de valorização da cultura.
Isso é feito, por exemplo, com a popularização de ingredientes por meio de receitas e propagandas de chefes de cozinha badalados. Pedro Zanetti, especialista em bioeconomia do Instituto Clima e Sociedade, diz que a Amazônia tem cadeias de valor com potencial de escala, mas que precisam ser melhor conhecidas.
— Temos especiarias da floresta, como o cumaru. Ele é usado com chocolate branco também de cacau amazônico, uma iguaria e um produto da sociobiodiversidade. Mas a muita gente não conhece. Por isso, a divulgação por chefes de alta gastronomia é importante — observa Zanetti.
Ele cita trabalhos como o da chefe Bel Coelho, que lançou na COP30, o livro “Floresta na Boca”, no qual relata expedições gastronômicas pela Amazônia e mostra receitas que desenvolveu nos ingredientes que encontrou em seu caminho. Está lá o mapará assado do Baixo Tocantins. Do Xingu, o chocobabaçu da Transamazônica. E do Tapajós, tempurá de pimenta-de-cheiro com camarão e geleia de bacuri.
— Nós brasileiros precisamos conhecer nossos ingredientes, cultivar pertencimento. A Amazônia tem coisas maravilhosas, que todo mundo deveria experimentar, como bacuri, cumaru, tucupi — afirma Coelho.
